Ano Um / Número 7
--------- «(.)(.)» ---------
Tábua de Matérias
§ 1. Sumaríssimo
§ 2. Dito e Feito, por P.D.
§ 3. O Corvo, Edgar Allan Poe
§ 4. Playmate absoluta do momento VII – Agripina, a filha.
§ 5. A Explicação das Pássaras, por A.H.
§ 6. 7. Drancula, Extractos do Diário de David Benson, por Boris Vian (Escritos Pornográficos)
§ 7. Taras, extraído de Esse Maldito Eu, (confissões e anátemas), 1987, de E.M. Cioran, seguido de uma Entrevista ao autor.
§ 8. De Saída: Número 8 (como sempre às Quintas!)...
--------- «(.)(.)» ---------
§ 1. Sumaríssimo
Seguindo a desúnica ordem impossível no rigor do número, neste caso o profano 7, como de costume apresentamos de entrada o habitualmente ligeiro e, sobretudo, sumário, mas muito apreciado Dito e Feito, por P.D., desta vez com uma curiosa incursão ao mundo dos criadores de sacos-de-pulgas.
Um poema quase desconhecido de Edgar Allan Poe, O Corvo, na versão de Fernando Pessoa e a playmate é, tinha de ser, só podia, a sequiosa e ardente Agripina, a filha.
Seguimos, um pouco para quebrar o ritmo, ou nem tanto, e alegrar os fiéis leitores, com o sanguíneo e por vezes incompreendido (e ainda bem) A Explicação das Pássaras, como sempre por A.H., e com um fabuloso conto pornográfico (!!!), Drancula, da autoria de Boris Vian, para o qual alertamos desde já as sensibilidades mais débeis.
Terminamos, à francesa e em beleza, com (algumas das, dizemos) Taras de E.M. Cióran, outro patafísico (digo eu) de comprofano renome e maldito franco-romeno, e ainda a algumas vezes habitual entrevista ao autor, para fazer jus ao pendor transilvânico deste número-mais-que-perfeito, SETE.
Com tanto trabalho a responder à correspondência dos nossos 2 leitores-comentadores, está bom de ver, e das restantes cerca de 666 almas errantes que nos visitaram até à altura, não temos tido grande tempo para recensar muito...
Até quinta e ficassem (sim é de propósito)! Vossas analfabe-nentidades até lá desassossegados/as pelas tresleituras!!
--------- «(.)(.)» ---------
§ 2. Dito e Feito, por P.D.
Introspecção canina
Por que teimamos em perceber-nos uns aos outros?
Sempre em vão. Menos inútil é tentarmos perceber-nos a nós mesmos. Criamos ficções, e vivemo-las, espectadores de nós mesmos no filme sempre errado, na personagem fracamente composta, a mera coerência de um enredo industrial. O argumento de final conhecido mas nunca desejado, a banalidade das perspectivas forçadas, tudo embelezado pelos efeitos especiais da mentira quotidiana.
Porquê? Culpa da inexorável retórica das coisas. Em verdade, não queremos. Uma ideia sem acto. O que ficaria sem a tela? Sim, tudo escuro e desagradável; seja o que for, sente-se sempre como feio e indesejado, pouco dado a reviravoltas de tradução. Mais luz, mais luz, diz o agonizante. Transforma-me, desaparece-me, deixa-me sair de mim, infeliz ensimesmado.
O cão brinca com o osso: comê-lo-á quando necessário.
--------- «(.)(.)» ---------
§ 3. O Corvo, Edgar Allan Poe
O Corvo
Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste,
Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais,
E já quase adormecia, ouvi o que parecia
O som de alguém que batia levemente a meus
[umbrais.
«Uma visita», eu me disse, «está batendo a meus
[umbrais.
É só isto, e nada mais.»
Ah, que bem disso me lembro! Era no frio Dezembro,
E o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais.
Como eu qu’ria a madrugada, toda a noite aos livros
[dada
P’ra esquecer (em vão!) a amada, hoje entre hostes
[celestiais –
Essa cujo nome sabem as hostes celestiais,
Mas sem nome aqui jamais!
Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo
Me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais!
Mas, a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo,
«É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais;
Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais.
É só isto, e nada mais.»
E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante,
«Senhor» eu disse, «ou senhora, decerto me
[desculpais;
Mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo,
Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais,
Que mal ouvi...» E abri largos, franqueando-os,
[meus umbrais.
Noite, noite e nada mais.
A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando,
Dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou
[iguais.
Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita,
E a única palavra dita foi um nome cheio de ais –
Eu o disse, o nome d’ ela, e o eco disse os meus ais.
Isto só e nada mais.
Para dentro então volvendo, toda alma em mim
[ardendo,
Não tardou que ouvisse novo som batendo mais
[e mais.
«Por certo», disse eu, «aquela bulha é na minha janela.
Vamos ver o que está nela, e o que são estes sinais.
Meu coração se distraia pesquisando estes sinais.
É o vento, e nada mais».
Abri então a vidraça, e eis que, com muita
[negaça,
Entrou grave e nobre um corvo dos bons
[tempos ancestrais.
Não fez nenhum cumprimento, não parou nem
- [um momento,
Mas com ar solene e lento pousou sobre meus
[umbrais,
Num alvo busto de Atena que há por sobre meus
[umbrais.
Foi, pousou, e nada mais.
E esta ave estranha e escura fez sorrir minha
[amargura.
Com o solene decoro de seus ares rituais,
«Tens o aspecto tosquiado», disse eu, «mas de nobre
[e ousado,
Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais!
Diz-me qual o teu name lá nas trevas infernais.»
Disse o corvo, «Nunca mais».
Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro,
Inda que pouco sentido tivessem palavras tais.
Mas deve ser concedido que ninguém terá havido
Que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais,
Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus
[umbrais,
Com o nome «Nunca mais».
Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera,
[augusto
Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais.
Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu
[pensamento
Perdido, murmurei lento, «Amigos, sonhos – -mortais
Todos – todos já se foram. Amanhã também te vais.»
Disse o corvo, «Nunca mais».
A alma súbito movida por frase tão bem cabida,
«Por certo», disse eu, «são estas suas vozes usuais.
Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça
[e o abandono
Seguiram até que o entono da alma se quebrou
[em ais,
E o bordão de desesprança de seu canto cheio de ais
Era este «Nunca mais».
Mas, fazendo inda a ave escura sorrir a minha
[amargura,
Sentei-me defronte d’ela, do alvo busto e meus
[umbrais;
E, enterrado na cadeira, pensei de muita maneira
Que qu’ria esta ave agoureira dos maus tempos
[ancestrais
Esta ave negra e agoureira dos maus tempos
[ancestrais
Com aquele «Nunca mais».
Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo
À ave que na minha alma cravava os olhos fatais,
Isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando
No veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais,
Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais,
Reclinar-se-á nunca mais!
Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um
[incenso
Que anjos dessem, cujos leves passos soam musicais.
«Maldito!» a mim disse, «deu-te Deus, por anjos
[concedeu-te
O esquecimento; valeu-te. Toma-o, esquece, com teus
[ais,
O nome da que não esqueces, e que faz esses teus
[ais!
Disse o corvo, «Nunca mais».
«Profeta», disse eu, «profeta – ou demónio ou ave
[preta –!,
Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus
[umbrais,
A este luto e este degredo, a esta noite e este segredo,
A esta casa de ânsia e medo, diz a esta alma a quem
[atrais
Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem
[atrais!»
Disse o corvo, «Nunca mais».
«Profeta», disse eu, «profeta – ou demónio,
[ou ave preta –!,
Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais,
Diz a esta alma entristecida se no Eden de outra vida
Verá essa hoje perdida entre hostes celestiais,
Essa cujo nome sabem as hostes celestiais !»
Disse o corvo, «Nunca mais».
«Que esse grito nos aparte, ave ou diabo!» eu disse,
[«Parte!
Torna à noite e à tempestade! Torna às trevas
[infernais!
Não deixes pena que ateste a mentira que disseste!
Minha solidão me reste! Tira-te de meus umbrais!
Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus
[umbrais!
Disse o corvo, «Nunca mais».
E o corvo na noite infinda, está ainda, está ainda
No alvo busto de Atena que há por sobre
[umbrais.
Seu olhar tem a medonha dor de um demónio que
[sonha,
E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais
[e mais
E a minh’alma dessa sombra, que no chão há mais
[e mais
Libertar-se-á... nunca mais!
Edgar Allan Poe, traduzido por Fernando Pessoa
--------- «(.)(.)» ---------
§ 4. Playmate absoluta do momento VII – Agripina, a filha.

Agripina, a mais nova...
--------- «(.)(.)» ---------
§ 5. A Explicação das Pássaras, por A.H.
7. Sete. Telefonema. Banalidades…
As sirenes, as luzes, a ausência de sensibilidade à queimadura que desde há pouco lhe fazia as vezes de corpo finalmente a esvair-se noutra coisa, fumo, a dissolução afinal, para além de qualquer dor… O encontro com nada. … Memória de quase nada, duas ou três coisas inapagáveis.
Acordou já tarde dentro às voltas de eléctrico pelo Ring. Era noite dentro há mais de duas horas. Não conseguia ainda pensar em nada que se aproveitasse para perfazer mais um dia. A irritação sensata de andar às voltas, até passar. Não passava. Resolveu apear-se junto ao Burgtheater e andar um pouco para não ter de continuar a levar a sério o último telefonema de Max, quando já? Percorreu a pé o caminho até ao café onde tinha a absoluta certeza de não correr o risco de encontrar B. àquela hora. Uma água com gás e um café simples, forte, amargo. O primeiro cigarro daquela estranha forma de manhã escura, afundada na centenária poltrona e passando os olhos pelo El País de anteontem.
Quereria ele que acreditasse que ao fim de tanto tempo sentia ciúmes? Que sentia deveras a sua falta? Devia mas era ter mais alguma brilhante peça em mente, como ele dizia, e estaria há espera (como não disse) do adiantamento do editor. Uma coisa simples, simplesmente genial, dizia sempre. E desde que passaram a viver juntos que era sempre ela quem lhe escrevia todas as peças. Não queria pensar nisso agora. Na altura pareceu-lhe natural passar o dia entre almofadas, droga, cigarros, vinho tinto e livros. Escrever-lhe as peças era-lhe tão simples como pedir um quarto de genebra com tónica em qualquer snack-bar do mundo. Tu fazias-lhe falta.
Estava fora de questão deixar Viena nesta altura, muito menos para se ir encarcerar algures nas montanhas. A paixão já não dava para tanto. Havia entendimento e amizade, por vezes. Trocas de pequenos favores enquanto o mestre se ia entretendo a criar discípulas. Mas agora pedia-lhe que regressasse por uns dias “só”, dizia. Precisamos de falar, preciso de contar-te esta ideia que tive. Queria lá saber do racismo ou do que quer que fosse que ainda a prendia a ele. Escrever-lhe os livros para não ter de escrever os seus, deixar de ouvi-lo durante uns meses, talvez anos desta vez que seria, como sempre, a última. Já se imaginava a florear-lhe dramas mais ou menos honestos em troca de algum sossego. Que raio! Três peças premiadas, dois prémios-carreira-literária. Depois desistira de ir com ele às cerimónias.
Sair. O ar gelado da noite e de novo o cansaço. A vontade de regressar a casa, à droga. Tinha de voltar a Roma antes do Natal e não sairia nos próximos dias. Em casa não lhe faltava nada, ninguém. Escreveria rapidamente qualquer coisa sobre o tema, teceria os primeiros diálogos, ou desta vez optaria pelo monólogo? Agarrou-se à máquina, escreveu.
Devia ser manhã outra vez quando precisou de deitar-se, mas o sono fora-se. Continuou a escrever sem interrupções pela semana dentro até que ele voltasse a telefonar. Atendeu.
- Sim, está quase pronta. Deixo-te o final à escolha, mas sempre dentro das tuas ideias directrizes. Parto para Roma, amanhã cedo, sim. Diz coisas. Quero ver se regresso a tempo de passarmos juntos o Natal, se ainda for importante para ti. Até lá... Envio-te hoje ainda. Beijo. Não precisas de agradecer.
- Nunca saberei como agradecer-te. Boa noite. Desculpa não perguntar como estás, mas sei que não gostas. Boa noite.
A.H.
--------- «(.)(.)» ---------
§ 6. 7. Drancula, Extractos do Diário de David Benson, por Boris Vian (Escritos Pornográficos)
7. Drancula
I
Eu encontrava-me em casa há pouco mais de uma hora no castelo do conde Drancula e já o aspecto sinistro daquele sítio fazia nascer no meu coração os mais sombrios pressentimentos.
A residência do conde erguia-se numa das regiões mais selvagens da grande floresta da Transilvânia que prepara o assalto aos primeiros contrafortes dos Cárpatos com as suas hostes negras de grandes pinheiros austríacos e de cedros de fronte desdenhosa; o castelo, no cimo de um pontão de roca, dominava uma ravina profunda, no fundo da qual rumorejava uma torrente espumosa.
O conde solicitara ao serviço de advocacia que me empregava em Londres para lhe delegar um dos seus representantes a fim de, escrevia ele, pôr em ordem certos papéis importantes; eu tinha na minha pasta a cópia da resposta que me credenciava para tanto, e essa pequena folha branca era a única coisa que conseguiu dissipar um pouco a minha angústia naquela situação.
Com efeito, há mais de uma hora que transpusera o umbral da austera construção de pedra cinzenta e nem uma alma se oferecera ao meu olhar. Somente alguns morcegos volteavam bizarramente pelo ar, povoando com os seus gritos estridentes o silêncio opressivo, apenas a recordação do meu grande escritório revestido a madeira em Londres me fazia manter o aprumo.
Ao percorrer, uma após outra, as salas desertas, acabei todavia por descobrir, perdido por trás de uma pequena torre virada a Norte, um quarto onde crepitava um fogo de lenha. Um bilhete, deixado sobre uma mesa, informava-me que o proprietário, na caça há já dois dias, pedia desculpa por me receber de maneira tão indelicada, suplicando-me para me acomodar o melhor que pudesse aguardando o seu regresso.
Coisa estranha, o lado misterioso do caso, longe de fazer crescer as minhas preocupações, dissipou-as, e foi de coração leve que ceei com grande satisfação.
Depois, despindo-me completamente, pois o calor era muito, estendi-me diante do fogo sobre uma imensa pele de urso negro que conservava ainda um ligeiro odor de fera, isto sem dúvida devido aos métodos rudimentares usados na sua conservação pelos habitantes da montanha.

negativo de O Beijo, Joel-Peter Witkin
II
Fui arrancado ao meu torpor por uma sensação de asfixia e por uma outra sensação, esta perfeitamente desconhecida. O meu passado de celibatário bem comportado não me tinha preparado de modo algum para tal experiência; mas ao mesmo tempo que um peso que me pareceu considerável assentou sobre o meu peito, tinha a impressão que o meu sexo inteiro estava mergulhado numa caverna quente e estranhamente móvel, e que tirava dessa excitação nova para ele um aumento de força e de volume completamente anormal. Retomando pouco a pouco a consciência, apercebi-me que o meu nariz e a minha boca eram esfregados por uma penugem elástica; um odor particular, um pouco estonteante, penetrava minhas narinas e ao aproximar as mãos, encontrei dois globos lisos e sedosos que estremeceram ao meu contacto e se ergueram ligeiramente; com o que, notando uma certa humidade no meu lábio superior, lambi essa humidade e a minha língua penetrou numa fenda carnuda e ardente que iniciou nesse instante uma longa série de contracções. Sorvi o sumo suculento que me corria agora pela boca e dei-me conta então que alguém se tinha estendido sobre mim a todo o comprimento, cabeça para os pés, roendo o meu membro enquanto eu lhe devolvia, do outro lado, a amabilidade; eu, David Benson, estava em vias de comer o órgão de uma criatura, e tirava disso um prazer extremo.
Esta constatação atingiu-me no instante em que, acometido de uma forte emoção, deixei escapar uma grande quantidade de esperma, engolida logo que lançada. Ao mesmo tempo, as coxas que me aprisionavam a cabeça enrijeceram; eu fiz o meu melhor, mergulhando e remexendo a língua o mais depressa que podia, e absorvia tudo o que pude tirar do cálice exasperado que dançava contra a minha boca. As minhas mãos não permaneciam inactivas, percorrendo de alto a baixo a racha perfumada onde o meu nariz recolhia um aroma afrodisíaco; os meus dedos penetraram por instantes numa fenda diferente e de mais difícil acesso.
- Estou tramado, pensava eu. O conde é um vampiro e esta pessoa está ao seu serviço. E eis que eu próprio me transformo num vampiro...
a criatura, nesse momento, forçou um pouco mais o seu cu contra o meu nariz e eu senti de encontro ao meu queixo um volume peludo e duro. Apalpando o objecto, reconheci que ele se prolongava por um membro teso turgescente que se esforçava por introduzir-se na minha boca.
- Eu sonho... pensei eu. Os dois sexos não podem estar reunidos numa só pessoa.
E, como é preciso aproveitar os sonhos para adquirir experiência, eu chupei esse membro tão bem quanto pude, encolhendo a língua contra o meu palato para fazê-la percorrer o sulco que dividia em dois a glande, pois eu queria levar a bom termo as suas pesquisas topográficas. A actividade do vampiro continuava em redor do meu ventre, e não sei como, ajudado por um movimento que fiz sem me dar conta, ele lambia-me os bordos do meu traseiro com uma língua afiada e móvel como uma cabeça de serpente. A minha verga flácida retomou o vigor com este contacto.
Um derradeiro alongamento do talo que eu sugava avidamente avisou-me de uma modificação súbita e a minha boca encheu-se de cinco ou seis esguichos de um esperma saboroso cujo gosto a lexívia deu depressa lugar a um aroma discreto de trufas. Antes que tivesse tempo de engolir tudo, o vampiro fez uma volta rápida e colou a sua boca à minha, examinando as minas gengivas e a minha garganta para recuperar alguns filamentos que aí se encontravam ainda. Entretanto, o meu sexo invadia um canal tórrido e doce, enquanto uma mão ligeira, cegada aos contornos do meu ânus, fazia penetrar nele um falo ainda tímido, mas que endurecia de balanço em balanço, enlouquecendo-me com as emoções mais vivas e mais inesperadas.
Esforçando-me por retomar a consciência, tive tempo para reflectir que se tratava forçosamente de um sonho, uma vez que a vagina que, no minuto precedente, se abria entre o ânus e os testículos, encontrava-se agora por cima da verga, e eu continuava a aproveitar-me disso. A besta percorria o meu rosto com lambidelas rápidas e fugazes, perto dos olhos, das orelhas e das fontes, pontos que jamais supusera tão sensíveis. Veio-me um desejo de ver essa criatura mas os clarões moribundos da lareira mal me permitiam distinguir uma parte da sua sombra que se recortava em contra-luz sobre a vermelhidão semi-morta do fogo.
Mas estas reflexões foram suspensas por uma nova vaga de prazer que me cortou e eu lancei um rio de licor para o fundo da vulva que apertava o membro enquanto sentia no mais profundo das minhas entranhas fluir o de meu íntimo demónio. Crispando as minhas mãos sobre seios agudos e duros a ponto de sentir os seus mamilos perfurar a minha carne, perdi a consciência, esgotado por impressões tão terríveis e tão fortes.
......................................................................................
O diário de David Benson detém-se aqui. Estas poucas folhas foram descobertas perto do seu corpo, nos arredores do castelo inabitado de Radzaganyi, na Hungria. David Benson tinha sido parcialmente devorado por bestas ferozes que, coisa curiosa, tinham atacado o seu baixo ventre, completamente devorado, e tinham coberto o seu rosto de excrementos e urina.
--------- «(.)(.)» ---------
§ 7. Taras, extraído de Esse Maldito Eu, (confissões e anátemas), 1987, de E.M. Cioran, seguido de uma Entrevista ao autor.
Taras
Quando se saiu do círculo de erros e de ilusões no interior do qual decorrem os actos, tomar posição é quase impossível. É preciso um mínimo de estupidez para tudo, para afirmar e até mesmo para negar.
Tudo o que me opõe ao mundo me é consubstancial. A experiência ensinou-me poucas coisas. As minhas decepções precederam-me sempre.
Para poder vislumbrar o essencial não deve exercer-se nenhum ofício. Há que permanecer caído todo o dia, e gemer...
Existe um prazer inegável em saber que o que se faz não possui nenhuma base real, que é indiferente realizar ou não realizar um acto. No entanto, nos nossos gestos quotidianos contemporizamos com a Vacuidade, quer dizer, alternativamente e às vezes ao mesmo tempo, consideramos este mundo como real e irreal. Misturamos verdades puras com verdades sórdidas, e essa amálgama, vergonha do pensador, é a vingança do ser normal.
Não são os males violentos que nos marcam, mas os males surdos, os insistentes, os toleráveis, aqueles que fazem parte da nossa rotina e nos minam tão meticulosamente como o Tempo.
Impossível assistir mais de um quarto de hora ao desespero de alguém.
A amizade só é interessante e profunda na juventude. É evidente que com a idade o que mais se teme é que os nossos amigos nos sobrevivam.
Podemos imaginar tudo, prever tudo, salvo até onde podemos afundar-nos.
O que ainda me apega às coisas é uma sede herdada de antepassados que levaram a curiosidade de existir até à ignomínia.
Quanto deviam detestar-se os trogloditas na escuridão e pestilência das cavernas! É normal que os pintores que nelas mal viviam não tenham querido imortalizar o rosto dos seus semelhantes e tenham preferido o dos animais.
“Tendo renunciado à santidade...” – Pensar que fui capaz de escrever semelhante enormidade! Devo, no entanto, ter alguma desculpa e espero achá-la ainda.
Fora da música, tudo, até a solidão e o êxtase, é mentira. Ela é justamente ambos, mas melhorados.
Até que ponto a idade simplifica tudo! Numa biblioteca peço quatro livros: dois têm a letra demasiado pequena, deixo-os sem os examinar; o terceiro, demasiado... sério, parece-me ilegível. Levo o quarto sem convicção...
Podemos estar orgulhosos do que fizemos, mas deveríamos está-lo muito mais do que não fizemos. Esse orgulho está por inventar.
A seguir a uma tarde com ele ficava extenuado, pois a necessidade de controlar-me, de evitar a menor alusão susceptível de feri-lo (e tudo o feria), deixava-me no final sem forças, insatisfeito tanto com ele como comigo mesmo. Acabava sempre por me censurar ter-lhe dado razão em tudo por escrúpulos levados até à baixeza, depreciava-me por não ter reagido, por não ter explorado, em vez de ter-me imposto tão extenuante exercício de delicadeza.
Nunca se diz de um cão ou de uma ratazana que é mortal. Com que direito se arrogou o homem esse privilégio? Afinal de contas, a morte não é uma descoberta sua. Que fatuidade julgar-se o seu beneficiário exclusivo!
À medida que perdemos a memória os elogios que nos prodigalizaram apagam-se, contrariamente às censuras. E isso é justo: os primeiros raramente se merecem, enquanto que os segundos nos revelam aspectos de nós mesmos que ignorávamos.
Se eu tivesse nascido budista, sê-lo-ia ainda; mas nasci cristão e deixei de sê-lo na adolescência, numa época em que muito mais que hoje teria podido exagerar, por tê-la conhecido, a blasfémia que Goethe escreveu no mesmo ano da sua morte numa carta a Zelter: “A cruz é a imagem mais odiosa que existe debaixo do céu”.
O essencial surge frequentemente no final das conversas. As grandes verdades dizem-se nos vestíbulos.
O caduco em Proust são as suas futilidades carregadas de uma vertigem prolixa, o estilo simbolista, a acumulação de efeitos, a saturação poética. É como se Saint-Simon tivesse sofrido a influência das Preciosas. Ninguém o leria hoje.
Uma carta digna desse nome só pode escrever-se sob o efeito da admiração ou da indignação, do exagero, em suma. Daí que uma carta sensata seja uma carta inexistente.
Conheci escritores obtusos e mesmo tontos. Pelo contrário, os tradutores com que tratei eram mais inteligentes e interessantes que os autores que traduziam. É lógico: necessita-se de mais reflexão para traduzir que para “criar”.
Quem for considerado pelos seus amigos como alguém “extraordinário”, não deve dar provas do contrário. Que evite deixar vestígios e sobretudo que não escreva, se deseja ser algum dia para todos o que foi apenas para alguns.
Mudar de idioma, para um escritor, é como escrever uma carta de amor com um dicionário.
“Creio que chegaste a detestar tanto o que pensam os outros como o que tu mesmo pensas”, disse-me aquela amiga pouco depois de depois de uma longa separação. Mais tarde, no momento de nos despedirmos, citou-me um apólogo chinês do qual podia deduzir-se que nada iguala o esquecimento de si mesmo. Ela, o ser mais presente, o mais transbordante de “eu” que possa imaginar-se, por que espécie de mal-entendido preconiza agora a renúncia até ao ponto de julgar que oferece o exemplo perfeito?
Incorrecto até ao intolerável, mesquinho, desastrado, insolente, subtil, intrigante e caluniador, captava os menores matizes de tudo, gritava feliz diante de um exagero ou uma piada... Tudo nele era atraente e repulsivo. Um canalha de quem sentimos falta.
A nossa missão é realizar a mentira que encarnamos, conseguir não ser mais do que uma ilusão esgotada.
A lucidez: martírio permanente, inimaginável proeza.
Aqueles que desejam fazer-nos confidências escandalosas contam cinicamente com a nossa curiosidade para satisfazer a sua necessidade de exibir segredos. Sabem, além disso, que os invejaremos demasiado para revelá-los.
Só a música pode criar uma cumplicidade indestrutível entre dois seres. Uma paixão é morredoura, degrada-se como tudo aquilo que participa da vida; ao passo que a música pertence a uma ordem superior à vida e, evidentemente, à morte.
Se não possuo o gosto do mistério é porque tudo me parece inexplicável, ou melhor dito, porque o inexplicável é o meu único sustento e estou farto dele.
X. censura-me que me comporte como um espectador, que não participe em nada, que o novo me repugne. –“Mas se eu não quero mudar nada”, respondo-lhe. No entanto, não compreendeu o sentido da minha resposta: crê-me modesto.
Assinalou-se acertadamente que a gíria filosófica muda tão rapidamente como o argot: as razões? A primeira é demasiado artificial, o segundo demasiado vivo. Dois excessos desastrosos.
Vive os seus últimos dias desde há meses, ou desde há anos, e fala do seu final no passado. Uma existência póstuma. Como estranho que consiga manter-se na vida quase sem comer, disse-me: “O meu corpo e a minha alma tardaram tantos anos a soldar-se que já não conseguem separar-se”.
Se não tem voz de moribundo é porque faz tempo já que não está vivo. “Sou uma vela apagada”, são as suas palavras mais justas sobre a sua última metamorfose. E quando evoco a possibilidade de um milagre, responde-me: “Precisava de vários”.
Após quinze anos de solidão absoluta, São Serafim de Sarow recebia os que o visitavam exclamando: “Oh, que alegria!”
Quem que não tenha deixado nunca de dar-se com os seus semelhantes, seria suficientemente extravagante para saudá-los assim?
Sobreviver a um livro destruidor é tão penoso para o leitor como para o autor.
É preciso encontrar-se em estado de receptividade, quer dizer, de debilidade física, para que as palavras nos cheguem, penetrem em nós e comecem no nosso interior uma espécie de carreira.
Deicida é o insulto mais acariciador que se pode dirigir a um indivíduo ou a um povo.
O orgasmo é um paroxismo; o desespero, outro. O primeiro dura um instante; o segundo uma vida.
Aquela mulher tinha um perfil de Cleópatra. Sete anos depois teria podido pedir esmola numa esquina. – Experiência que devia curar-nos no acto e para sempre de toda a idolatria, de todo o desejo de procurar o insondável nuns olhos, num sorriso ou numa voz.
Sejamos razoáveis: ninguém pode estar completamente de volta de tudo. E uma vez que não existe uma decepção universal, também não poderia existir um conhecimento universal.
Tudo o que não é dilacerante é supérfluo – em música pelo menos.
Brahms representa, segundo Nietzsche, die Melancholie des Unvermögens, a melancolia da impotência.
Semelhante juízo, escrito no mesmo ano da sua crise, sufoca para sempre o esplendor do seu afundamento:
Não ter feito nunca nada e morrer, no entanto, extenuado.
Esses transeuntes idiotizados... – Mas como pudemos cair tão baixo? E como imaginar um espectáculo assim na Antiguidade, em Atenas por exemplo? Basta um minuto de lucidez aguda no meio desses condenados para que todas as ilusões se desmoronem.
Quanto mais se detesta os homens, mais maduro se está para Deus, para um diálogo com ninguém.
A fadiga extrema leva tão longe como o êxtase, com a diferença de que com ela desce-se até aos limites do conhecimento.
Tal como a aparição do Crucificado dividiu a história em dois, esta noite acaba de dividir em dois a minha vida...
Tudo parece miserável e inútil quando a música emudece. Compreende-se assim que possa ser odiada e se sintam tentações de considerar o seu absoluto como uma fraude. Porque quando a amamos demasiado é preciso reagir contra ela, seja como for. Ninguém percebeu o seu perigo melhor que Tolstoi, pois sabia que podia dominá-lo completamente. Daí que começasse a execrá-la com medo de transformar-se num joguete seu.
A renúncia é a única variedade de acção não aviltante.
É imaginável um cidadão que não possua uma alma de assassino?
Ter somente o gosto pelo pensamento indefinido que não chega à palavra e pelo pensamento instantâneo que vive apenas graças a ela. A divagação e a boutade.
Um jovem alemão pede-me na rua um franco. Converso com ele e conta-me que percorreu meio mundo e que esteve na Índia, país de que admira os mendigos, os quais se gaba de imitar. No entanto, não se pertence impunemente a uma nação didáctica. Observei-o a pedir: parecia ter recebido cursos de mendicidade.
A natureza, procurando uma fórmula que pudesse satisfazer toda a gente, escolheu finalmente a morte, a qual, como era de esperar, não satisfez ninguém.
Há em Heraclito um lado Delfos e um lado manual escolar, uma mistura de ideias fulminantes e de rudimentos; foi um inspirado e um preceptor. É uma pena que não fizesse abstracção da ciência, que nem sempre pensasse fora dela.
Condenei com tanta frequência toda a forma de acto, que manifestar-me, seja de que maneira for, me parece uma impostura, para não dizer uma traição. – No entanto, você continua a respirar. – Sim, faço como toda a gente. Mas...
Que juízo fazer sobre os seres vivos se é verdade, como alguém defendeu, que o que perece nunca existiu!
Enquanto me expunha os seus projectos, escutava-o sem poder esquecer que não lhe restavam mais que uns dias de vida. Que loucura a sua de falar de futuro, do seu futuro. Mas, já na rua, como não pensar que afinal de contas a diferença não é tão grande entre um mortal e um moribundo? O absurdo de fazer projectos é só um pouco mais evidente no segundo caso.
Ficamos sempre antiquados pelo que admiramos. Quando citamos alguém que não seja Homero ou Shakespeare, corremos o risco de parecer passados de moda ou da cabeça.
No máximo, podemos imaginar Deus a falar francês. Nunca Cristo. As suas palavras perdem o encanto e o vigor numa língua tão inadequada para o ingénuo ou o sublime.
Interrogar-se sobre o homem durante tantos anos! Impossível exagerar mais o gosto pelo malsão.
A raiva provém de Deus ou do Diabo? – Dos dois. Como explicar senão que sonhe com galáxias para pulverizá-las e não possa consolar-se por ter unicamente ao seu alcance este pobre, este miserável planeta?
Para que nos agitamos tanto? Para voltar a ser o que éramos antes de ser.
X. que fracassou em tudo, lamenta-se de não ter tido um destino. – Muito pelo contrário, digo-lhe. A série dos teus fracassos é tão notável que parece revelar um destino providencial.
A mulher foi importante enquanto simulou pudor e reserva. Que deficiência demonstra empenhando-se em deixar de jogar o jogo! Agora já não vale nada, pois assemelha-se a nós. Assim desaparece uma das últimas mentiras que tornavam tolerável a existência.
Amar o próximo é algo inconcebível. Acaso se pede a um vírus que ame outro vírus?
Os únicos acontecimentos importantes de uma vida são as rupturas. Elas são também a última coisa que se apaga da nossa memória.
Quando soube que ele era totalmente impermeável a Dostoievsky e à Música, recusei-me, apesar dos seus grandes méritos, a conhecê-lo. Prefiro conversar com um atrasado mental sensível a qualquer dos dois.
O facto de que a vida não tem nenhum sentido é uma razão para viver, a única na realidade.
Tendo vivido dia após dia na companhia do Suicídio, seria injusto e ingrato que o denegrisse agora. Existe algo mais são, mais natural? O que não o é, é o apetite raivoso de existir, tara grave, tara por excelência, minha tara...
(Trad. de A.H.)
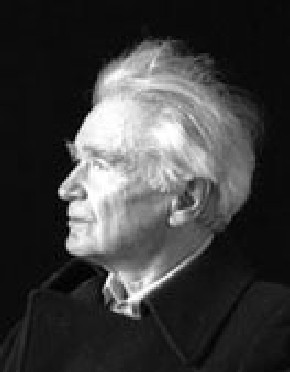
E.M. Cioran
Entrevista a Cioran, por Sylvie Jaudeau (TF3)
– Por que razão rompeu com a poesia?
– Por esgotamento interior, por desfalecimento da minha capacidade de emoção. Chega um tempo em que secamos. O interesse pela poesia está ligado a essa frescura do espírito sem a qual pomos rapidamente a descoberto os seus artifícios. O mesmo acontece com a escrita. À medida que avanço na idade, escrever parece-me pouco essencial. Saído agora de um ciclo de tormentos, conheço por fim a doçura da capitulação. Sendo o rendimento a pior das superstições, sinto-me feliz por não ter caído nela. Conhece o enorme respeito que tenho pelos incompletos, por aqueles que tiveram a coragem de se extinguir sem deixar vestígios.
Se me pus a escrever, deve imputar-se a responsabilidade disso à minha ociosidade. Tinha de a justificar, e que fazer senão escrever? O fragmento, o único género compatível com os meus humores, é o orgulho de um instante transfigurado, com todas as contradições que daí decorrem. Uma obra de grande fôlego, submetida às exigências de uma construção, truncada pela obsessão da continuidade, é demasiado coerente para o Ser verdadeiro.
– A sua verdade não reside nesse silêncio que hoje opõe àqueles que ainda esperam livros de si?
– Talvez; mas se não escrevo mais é porque estou farto de caluniar o universo! Sou vítima de uma espécie de usura. A lucidez e a fadiga venceram-me – quero dizer uma fadiga tanto filosófica como biológica –, algo em mim se desarranjou. Escreve-se por necessidade e o cansaço faz desaparecer essa necessidade. Chega uma altura em que isso deixa de nos interessar. Além disso, conheci muitas pessoas que escreveram mais do que precisavam, obstinadas em produzir, estimuladas pelo espectáculo da vida literária parisiense. Mas parece-me que também eu escrevi de mais. Um só livro teria chegado. Não tive a sabedoria de deixar inexploradas as minhas potencialidades, como os verdadeiros sábios que admiro, aqueles que, deliberadamente, nada fizeram da sua vida.
– Como vê hoje a sua «obra» (se esta palavra ainda tem algum sentido para si)?
– É uma questão que não me preocupa absolutamente. O destino dos meus livros deixa-me indiferente. No entanto, creio que algumas das minhas insolências ficarão.
– O que diria àquele que descobre a sua obra? Aconselhá-lo-ia a começar por uma determinada obra?
– Pode escolher uma qualquer, já que não há continuidade naquilo que escrevo. O meu primeiro livro contém já virtualmente tudo o que eu disse depois. Só muda o estilo.
– Existe algum título a que esteja particularmente apegado?
– Sem qualquer dúvida De l’inconvénient d’être né. Adiro a cada palavra desse livro, que se pode abrir em qualquer página e não é preciso lê-lo todo.
Estou também apegado ao Syllogismes de l’amertume pela simples razão de toda a gente ter dito mal dele. Pensava-se que eu me comprometera ao escrever esse livro. Na altura da sua publicação, só Jean Rostand percebeu: «Este livro não será compreendido», disse ele.
Mas gosto particularmente das últimas sete páginas de La chute dans le temps que representam aquilo que de mais sério escrevi. Custaram-me muito e foram de modo geral incompreendidas. Falou-se pouco desse livro, embora seja, na minha opinião, o mais pessoal e onde exprimi aquilo que mais me ia no coração. Existe algum drama maior, com efeito, do que cair do tempo? Mas poucos dos meus leitores perceberam esse aspecto essencial do meu pensamento.
Estes três livros teriam certamente bastado e não hesito em repetir que escrevi de mais.
– É a sua última palavra?
– Sim.
(Trad. de P.D.)
--------- «(.)(.)» ---------
§ 8. De Saída: Número 8 (como sempre às Quintas!)...









