Ano Um / Número 12
--------- «(.)(.)» ---------
Tábua de Matérias
§ 1. Sumaríssimo
§ 2. Dito e Feito, por P.D.
§ 3. O herói de Hong Kong, Paulo José Miranda
§ 4. Playmate absoluta do momento XII – Gertrude Stein
§ 5. Max, por A.H.
§ 6. Fabrizio Lupo, Carlo Coccioli
§ 7. A Noção de Gasto, (I), Georges Bataille
§ 8. De Saída: Número 13 (como sempre às Quintas!)...
--------- «(.)(.)» ---------
Então, Bons sonhos! - e cá nos haveremos de não-ver já na próxima Quinta!
--------- «(.)(.)» ---------
O herói de Hong Kong
O rapaz fode na cidade
até que fosse
outra vez deitar-se.
Inflecte 180 graus
pelo nevoeiro dos arranha-céus
que pela manhã
morrem nos vidros dos táxis,
como prostitutas
a regressarem a casa.
Os helicópteros
e os seus silvados
pelos telhados,
de olhos pequenos nos sujos juncos
(o mar do outro lado da ilha),
com a soberba
e a ignorância dos céus.
É cedo para o infortúnio
as visitas à mãe, no hospital,
onde se morre sem saber,
um peixe frio à espera
e escamas de trabalho.
À porta de casa,
com vista para
as vidas a irem para o serviço,
o herói acende o último cigarro
e ostenta mais a camisola
onde se lê os seus dias:
a minha picha gostava
de te pagar um copo.
Longe no tempo que nunca virá
há-de perder
amigos em casamentos
(depois os filhos debaixo dos pratos
com tudo o que se deixa de fazer)
trocará de óculos escuros,
administra drogas rápidas
e o uso dos melhores preservativos
na sua casa em Stanley
com vista para as flores
(vaginas, pénis, seios,
rabos, braços, ombros)
que crescem
com sucesso, no terraço,
debruçado sobre o mar do sul da China.
E, seja em que língua for,
sempre fiel ao seu princípio:
fazer todo o sexo,
nada menos (nada mais) que sexo.

Georges Bataille
Georges Bataille, A Noção De Gasto[1]
1. Insuficiência do princípio clássico de utilidade
Quando o sentido de um debate depende do valor fundamental da palavra útil, quer dizer, sempre que é abordada uma questão essencial relacionada com a vida das sociedades humanas, sejam quais forem as pessoas intervenientes e as opiniões representadas, é possível afirmar que se falseia necessariamente o debate e se ilude a questão fundamental. Com efeito, não existe nenhum meio correcto, considerando o conjunto mais ou menos divergente das concepções actuais, que permita definir o que é útil aos homens. Esta lacuna fica suficientemente provada pelo facto de ser constantemente necessário recorrer, do modo mais injustificável, a princípios que se tentam situar para além do útil e do prazer. Alude-se, hipocritamente, à honra e ao dever, combinando-os com o interesse pecuniário e, sem falar de Deus, o Espírito é usado para mascarar a confusão intelectual dos que recusam aceitar um sistema coerente.
No entanto, a prática usual evita estas dificuldades elementares e a consciência comum parece que, numa primeira aproximação, não pode opor senão reservas verbais ao princípio clássico da utilidade, quer dizer, da pretensa utilidade material. Teoricamente, esta tem por objecto o prazer – mas somente sob uma forma moderada, já que o prazer violento é percebido como patológico – e fica limitada à aquisição (praticamente à produção) e à conservação de bens, por um lado, e à reprodução e conservação de vidas humanas, por outro: (preciso é acrescentar, certamente, a luta contra a dor, cuja importância basta em si mesma para manifestar o carácter negativo do princípio do prazer teoricamente introduzido na base). Na série de representações quantitativas ligadas a esta concepção da existência, plana e insustentável, só o problema da reprodução se presta seriamente à controvérsia pelo facto de um aumento exagerado do número de seres vivos poder diminuir a parte individual. Mas, globalmente, qualquer avaliação geral sobre a actividade social implica o princípio de que todo o esforço particular deve ser redutível, para ser válido, às necessidades fundamentais da produção e da conservação. O prazer, quando se trata de arte, de vício tolerado ou de jogo, fica reduzido, em definitivo, nas interpretações intelectuais correntes, a uma concessão, quer dizer, a um descanso cujo papel seria subsidiário. A parte mais importante da vida é considerada como sendo constituída pela condição – às vezes até penosa – da actividade social produtiva.
É verdade que a experiência pessoal, tratando-se de um jovem, capaz de esbanjar e destruir sem sentido, opõe-se, em todo o caso, a esta concepção miserável. Mas até mesmo quando este se prodigaliza e se destrói sem consideração alguma, até o mais lúcido ignora o porquê ou julga-se doente. É incapaz de justificar utilitariamente a sua conduta e não se apercebe que uma sociedade humana possa estar interessada, como ele mesmo, em perdas consideráveis, em catástrofes que provoquem, de acordo com necessidades concretas, abatimentos profundos, ataques de angústia e, em último extremo, um certo estado orgiástico.
A contradição entre as concepções sociais correntes e as necessidades reais da sociedade assemelha-se, de um modo esmagador, à estreiteza de mente com que o pai tenta obstar a satisfação das necessidades do filho que tem a seu cargo. Esta estreiteza é tal que é impossível ao filho expressar a sua vontade. A quase malvada protecção de seu pai cobre o alojamento, a roupa, a alimentação, até algumas diversões anódinas. Mas o filho não tem sequer o direito de falar do que o preocupa. É obrigado a fazer crer que não se defronta com nada de abominável. Neste sentido é triste dizer que a humanidade consciente continua a ser menor de idade; admite o direito de adquirir, de conservar ou de consumir racionalmente, mas exclui, em princípio, o gasto improdutivo.
É certo que esta exclusão é superficial e não modifica a actividade prática, do mesmo modo que as proibições não limitam o filho, que se entrega a diversões inconfessáveis assim que deixa de estar em presença do pai. A humanidade pode fazer as suas concepções tão estúpidas e míopes quanto as paternas. Mas, na prática, comporta-se de tal forma que satisfaz necessidades que são uma barbaridade atroz e até não parece capaz de subsistir senão à beira do excessivo.
Por outro lado, por pouco que um homem seja capaz de aceitar plenamente as considerações oficiais, ou que possam chegar a sê-lo, por pouco que tenda a submeter-se à atracção de quem dedica a sua vida à destruição da autoridade estabelecida, é difícil crer que a imagem de um mundo aprazível e coerente com a razão possa chegar a ser para ele mais que uma cómoda ilusão.
As dificuldades que se podem encontrar no desenvolvimento de uma concepção que não siga o modelo desprezível das relações do pai com o filho não são, portanto, insuperáveis. Pode acrescentar-se à necessidade histórica de imagens vagas e enganosas para uso da maioria, que não actua sem um mínimo de erro (do qual se serve como se fosse uma droga) e que, além disso, em qualquer circunstância, recusa reconhecer-se no labirinto a que conduzem as inconsequências humanas. Para os sectores incultos ou pouco cultivados da sociedade, uma simplificação extrema constitui a única possibilidade de evitar uma diminuição da força agressiva. Mas seria vergonhoso aceitar como limite ao conhecimento as condições em que se formam tais concepções simplificadas. E se uma concepção menos arbitrária está condenada a permanecer, de facto, como que esotérica e se, como tal, tropeça, nas circunstâncias actuais, com uma recusa insana, é preciso dizer que esta recusa é precisamente a desonra de uma geração na qual os rebeldes têm medo do clamor das suas próprias palavras. Não devemos, portanto, prestar-lhe atenção.

Touro
2. O princípio de perda
A actividade humana não é inteiramente redutível a processos de produção e conservação, e o consumo pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira, redutível, é representada pelo uso de um mínimo necessário aos indivíduos de uma sociedade dada à conservação da vida e para a continuação da actividade produtiva. Trata-se, pois, simplesmente, da condição fundamental desta última. A segunda parte é representada pelos chamados gastos improdutivos: o luxo, os duelos, as guerras, a construção de monumentos sumptuosos, os jogos, os espectáculos, as artes, a actividade sexual perversa (quer dizer, desviada da actividade genital), que representam actividades que, pelo menos em condições primitivas, têm o seu fim em si mesmas. Por isso, é necessário reservar o nome de gasto para estas formas improdutivas, com exclusão de todos os modos de consumo que servem como meio de produção. Apesar de ser sempre possível opor umas às outras, as diversas formas enumeradas constituem um conjunto caracterizado pelo facto de, em qualquer caso, a ênfase se situar na perda, a qual deve ser a maior possível para adquirir o seu verdadeiro sentido.
Este princípio de perda, quer dizer, de gasto incondicional, por contrário que seja ao princípio económico da contabilidade (o gasto regularmente compensado pela aquisição), só racional no sentido estrito da palavra, pode manifestar-se com a ajuda de um pequeno número de exemplos extraídos da experiência corrente.
1) Não basta que as jóias sejam belas e deslumbrantes, o que permitiria que fossem substituídas por outras falsas. O sacrifício de uma fortuna, em vez da qual se preferiu um colar de diamantes, é o que constitui o carácter fascinante do referido objecto. Este facto deve ser relacionado com o valor simbólico das jóias, que é geral em psicanálise. Quando um diamante tem num sonho uma significação relacionada com os excrementos, não se trata somente de uma associação por contraste já que, no subconsciente, as jóias, como os excrementos, são matérias malditas que flúem de uma ferida, partes de nós mesmos destinadas a um sacrifício ostensivo (servem, de facto, para fazer ofertas faustosas carregadas de desejo sexual). O carácter funcional das jóias exige o seu imenso valor material e explica o pouco caso feito às mais belas imitações, que são quase inutilizáveis.
2) Os cultos exigem uma destruição cruenta de homens e de animais de sacrifício. O sacrifício não é outra coisa, no sentido etimológico da palavra, senão a produção de coisas sagradas. É fácil apercebermo-nos de que as coisas sagradas têm a sua origem numa perda. Em particular, o êxito do cristianismo pode ser explicado pelo valor do tema da crucificação do filho de Deus, que provoca a angústia humana por equivaler à perda e à ruína sem limites.
3) Nos diferentes desportos, a perda produz-se, em geral, em condições complexas. Despendem-se quantidades consideráveis de dinheiro na manutenção de locais, de aparelhos e de homens. As energias prodigalizam-se, no possível, com a finalidade de provocar um sentimento de estupefacção e, em todo o caso, com uma intensidade infinitamente maior que nas empresas de produção. O perigo de morte não é evitado, uma vez que, pelo contrário, é o objecto de uma forte atracção inconsciente. Por outro lado, as competições são, às vezes, a ocasião para repartir riquezas de uma maneira ostensiva. Multidões imensas assistem a elas. As suas paixões desencadeiam-se com grande frequência sem controlo algum, a perda de ingentes quantidades de dinheiro fica comprometida em forma de apostas. É verdade que esta circulação de dinheiro beneficia um pequeno número de profissionais da aposta, mas nem por isso esta circulação pode ser menos considerada como uma carga real das paixões desencadeadas pela competição, que ocasiona a um grande número de apostadores perdas desproporcionadas aos seus meios. Estas perdas alcançam frequentemente uma importância tal que os apostadores não têm outra saída senão a prisão ou a morte. Por outro lado, formas diferentes de gasto improdutivo podem estar ligadas, consoante as circunstâncias, aos grandes espectáculos de competição que, tal como os elementos animados por um movimento próprio, se sentem atraídos por uma turbulência maior. É deste modo que nas corridas de cavalos se associam processos de classificação social de carácter sumptuário (basta mencionar a existência dos Jockey Clubs) e à produção ostensiva das luxuosas novidades da moda. Há que fazer observar, além disso, que o conjunto dos gastos que têm lugar actualmente nas corridas é insignificante comparado com as extravagâncias dos bizantinos, que unem às competições hípicas o conjunto da actividade pública.
4) Do ponto de vista do gasto, as produções artísticas podem ser divididas em duas grandes categorias, das quais a primeira é constituída pela arquitectura, a música e a dança. Esta categoria comporta gastos reais. No entanto, a escultura e a pintura, sem fazer referência à utilização de lugares concretos para cerimónias ou espectáculos, introduzem na própria arquitectura o princípio da segunda categoria, o do gasto simbólico. Pelo seu lado, a música e a dança podem estar facilmente carregadas de significações exteriores.
Na sua forma superior, a literatura e o teatro, que constituem a segunda categoria, provocam a angústia e o horror por meio de representações simbólicas da perda trágica (decadência ou morte). Na sua forma inferior provocam o riso por meio de representações cuja estrutura é análoga, mas excluem certos elementos de sedução. O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser considerado como sinónimo de gasto; significa, com efeito, da forma mais precisa, criação por meio da perda. O seu sentido é equivalente a sacrifício. É certo que o nome poesia só pode ser aplicado de forma apropriada, a uma parte muito pouco conhecida do que vem a designar vulgarmente e que, por falta de uma decantação prévia, podem introduzir-se as piores confusões. No entanto, numa primeira exposição rápida, é impossível referir-se aos limites infinitamente variáveis que existem entre determinadas formações subsidiárias e o elemento residual da poesia. É mais fácil dizer que, para os poucos seres humanos que estão enriquecidos por este elemento, o gasto poético deixa de ser simbólico nas suas consequências. Portanto, em certa medida, a função criativa compromete a própria vida daquele que a assume, uma vez que o expõe às actividades mais decepcionantes, à miséria, ao desespero, à perseguição de sombras fantasmagóricas, que só podem causar vertigem, ou à raiva. É frequente que o poeta não possa dispor das palavras mais que para sua própria perdição, que se veja obrigado a escolher entre um destino que transforma um homem num réprobo, tão drasticamente isolado da sociedade como estão os excrementos da vida aparente, e uma renúncia cujo preço é uma actividade medíocre, subordinada a necessidades vulgares e superficiais.
§ 1. Sumaríssimo
§ 2. Dito e Feito, por P.D.
§ 3. O herói de Hong Kong, Paulo José Miranda
§ 4. Playmate absoluta do momento XII – Gertrude Stein
§ 5. Max, por A.H.
§ 6. Fabrizio Lupo, Carlo Coccioli
§ 7. A Noção de Gasto, (I), Georges Bataille
§ 8. De Saída: Número 13 (como sempre às Quintas!)...
--------- «(.)(.)» ---------
§ 1. Sumaríssimo
É é isto! Cá estamos nós uma vez mais para cumprir este suplício até há relativamente pouco tempo impensável que é ter de dar de ler a quem tem sede e propiciar autênticas pérolas negras (pensem nas nossas indomáveis playmates...) a quem por aqui decida e atreva a arrastar-se por mais de alguns segundos - ao que parece, cada vez mais desocupados de longa duração e lieratos em busca de aventura e sexo barato, a avaliar pela avalanche de correspondência que por cá temos de receber. Adiante. Mil cento e tal visitas, não é chita! Será que estamos no "bom" caminho? Humm...
Bem, pois desta feita, para não variarmos nem muito nem pouco damos continuidade logo a abrir ao sempre esperado Dito e Feito, pela pena certeira de P.D.; fazemos logo em seguida mais uma incursão pela (agora) nobilíssima poesia-marcial lusa com O herói de Hong Kong, da lavra do nosso bardo laureado de estimação.
É é isto! Cá estamos nós uma vez mais para cumprir este suplício até há relativamente pouco tempo impensável que é ter de dar de ler a quem tem sede e propiciar autênticas pérolas negras (pensem nas nossas indomáveis playmates...) a quem por aqui decida e atreva a arrastar-se por mais de alguns segundos - ao que parece, cada vez mais desocupados de longa duração e lieratos em busca de aventura e sexo barato, a avaliar pela avalanche de correspondência que por cá temos de receber. Adiante. Mil cento e tal visitas, não é chita! Será que estamos no "bom" caminho? Humm...
Bem, pois desta feita, para não variarmos nem muito nem pouco damos continuidade logo a abrir ao sempre esperado Dito e Feito, pela pena certeira de P.D.; fazemos logo em seguida mais uma incursão pela (agora) nobilíssima poesia-marcial lusa com O herói de Hong Kong, da lavra do nosso bardo laureado de estimação.
A escolha da playmate recaiu esta semana sobre Gertrude Stein - esperemos que não se tenha magoado no processo... e, finda que foi (aparentemente) A Explicação das Pássaras, retomamos o habitual conto meta-interseccionista com Max, por A.H e, em seguida, um excerto de Fabrizio Lupo, por Carlo Coccioli - que ficará, como já se esperava, por apresentar.
Terminamos em GRANDE com a publicação, naturalmente não autorizada, da primeira de três partes (3!) da nossa tradução de um ensaio absolutamente fundamental de Georges Bataille, a seguir nos próximos números d' O Saca, justamente intitulado A Noção de Gasto.
Então, Bons sonhos! - e cá nos haveremos de não-ver já na próxima Quinta!
--------- «(.)(.)» ---------
§ 2. Dito e Feito, por P.D.
Orgânica
«Ele deveria fazer como o touro, e a sua felicidade deveria cheirar a terra, e não a desprezo pela terra». (F. Nietzsche)
Por que evito sempre pensar no orgânico? Eu, que nem tenho alma? Um coração, sim, mudo e maquinalmente obediente! Se me fala, não o ouço. Apenas uma consciência difusa de um enredo de órgãos, irracionalmente combinados e vivos, a mexer em mim.
Quem suporta a sensação contínua do sangue a correr? O coração sempre a bater, despedindo-se de cada dia que passa?
Um saco cheio de nervos. É o que sou. Fluxo de sinapses autónomas e irrequietas.
Corpo, por que só me falas na dor?
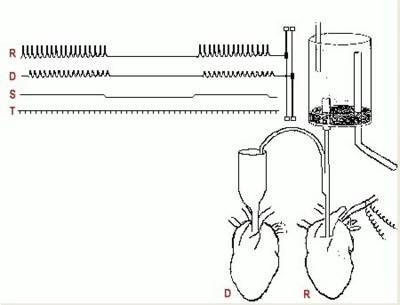
Sinapse
--------- «(.)(.)» ---------
Orgânica
«Ele deveria fazer como o touro, e a sua felicidade deveria cheirar a terra, e não a desprezo pela terra». (F. Nietzsche)
Por que evito sempre pensar no orgânico? Eu, que nem tenho alma? Um coração, sim, mudo e maquinalmente obediente! Se me fala, não o ouço. Apenas uma consciência difusa de um enredo de órgãos, irracionalmente combinados e vivos, a mexer em mim.
Quem suporta a sensação contínua do sangue a correr? O coração sempre a bater, despedindo-se de cada dia que passa?
Um saco cheio de nervos. É o que sou. Fluxo de sinapses autónomas e irrequietas.
Corpo, por que só me falas na dor?
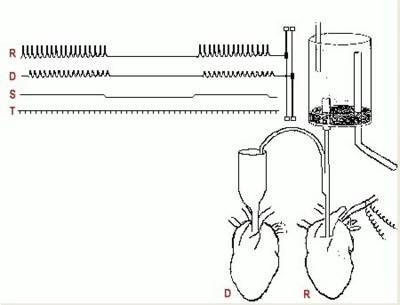
Sinapse
--------- «(.)(.)» ---------
§ 3.O herói de Hong Kong, Paulo José Miranda
O herói de Hong Kong
O rapaz fode na cidade
até que fosse
outra vez deitar-se.
Inflecte 180 graus
pelo nevoeiro dos arranha-céus
que pela manhã
morrem nos vidros dos táxis,
como prostitutas
a regressarem a casa.
Os helicópteros
e os seus silvados
pelos telhados,
de olhos pequenos nos sujos juncos
(o mar do outro lado da ilha),
com a soberba
e a ignorância dos céus.
É cedo para o infortúnio
as visitas à mãe, no hospital,
onde se morre sem saber,
um peixe frio à espera
e escamas de trabalho.
À porta de casa,
com vista para
as vidas a irem para o serviço,
o herói acende o último cigarro
e ostenta mais a camisola
onde se lê os seus dias:
a minha picha gostava
de te pagar um copo.
Longe no tempo que nunca virá
há-de perder
amigos em casamentos
(depois os filhos debaixo dos pratos
com tudo o que se deixa de fazer)
trocará de óculos escuros,
administra drogas rápidas
e o uso dos melhores preservativos
na sua casa em Stanley
com vista para as flores
(vaginas, pénis, seios,
rabos, braços, ombros)
que crescem
com sucesso, no terraço,
debruçado sobre o mar do sul da China.
E, seja em que língua for,
sempre fiel ao seu princípio:
fazer todo o sexo,
nada menos (nada mais) que sexo.
Paulo José Miranda, O Tabaco de Deus, Cotovia
--------- «(.)(.)» ---------
--------- «(.)(.)» ---------
§ 4. Playmate absoluta do momento XII – Gertrude Stein
§ 5. Max, por A.H.
Une rien. L’unité triomphante.
Ao terceiro ou quarto, já não sei bem, e bem que era generoso o que me pareceu na altura ser um black label simples, já parecia mesmo estar quase decidido a ligar-lhe, assim mesmo, como se fosse sem mais, o telefonema supostamente inesperado mas de pedido concedido, inconfessável, a qualquer momento, mal encenado que estivesse, como desde sempre havia feito, sobretudo o mais importante, como sempre, aquela espécie de tom tragicómico e ligeiramente enliquidado, stumm wie ein Fish!, um mísero rato suíço enfrascado, sem a mínima vontade de abandonar a aleitante nau de suas delícias, a colocar ao mesmo tempo ao longo do habitualmente breve telefonema que lhe fazia sempre que considerava estar, segundo a sua própria imaginação, terminologia filosófica pós-moderna e prazer, quase por alturas de acerto de contas, como lhe chamava, que o limite do cartão de crédito, em sã verdade, começava a dar sinais intermitentes da não perigosa, mas velozmente a tornar-se visível que nem uma glorificante chaga aberta na possibilidade dos dias, no único coração que ainda se permitia ir tendo ao sabor do próprio sangue, da ausência abjecta de poesia nos pezinhos delicados de H., que a essa hora ainda devia estar com os coleguinhas de curso. Dir-se-ia talvez mesmo, que estava invulgarmente nervoso para aquela hora do dia e talvez, sobretudo, com a mente mais tresloucada e visando outras paragens possivelmente ainda para essa mesma noite, bastante mais tarde ainda hoje. Chamar depois um táxi e rumar com destino mais que certinho pela noite, dentro de novo em busca de Helène, daquela putéfia, a galdéria magnífica e adolescente ainda ma non tropo das últimas duas noites de revisão da matéria dada na faculdade durante a tarde, que devia chegar ao local de antes da habitual ceia, como sempre, nunca antes das dez para as onze, outro dos seus diversos e nem sempre assim tão inócuos fétiches de rameirinha muitíssimo mimada também, ao que contava, em jeito de orgasmo múltiplo e variado durante o fazer simples do sexo, pelo próprio padrasto desde a mais doce das idades de que guarda feliz memória.
Que tesão que lhe desacodia agora ao ter de pensar nisso, numa rápida mas terna mamada de bezerrinha bem fodida, embora muito possivelmente em cuja hora da verdade tivesse de voltar, com algum agrado até, diga-se, a socorrer-se de algum outro tipo de dotes para empatar o tempo, técnicas de anti-jogo, prolongados intervalos para conversar, por vezes fumar, e tornar a morder-lhe os seios pequenos, ideiais, pensava, para fazer render a queca, que é mesmo assim... Bem. Mais tarde logo se veria. O priapismo, súbito e fora de horas, é que não estava de modo algum previsto, enquanto visitante inesperado mas nem por isso mal vindo, a tornar a visitá-lo, por assim dizer, naquela espécie de plena pré-programação da caçada nocturna, antecâmara da berlaitada sem mácula, que seguramente o esperaria a seguir àquele desprezível, até para ele, acto de submissão à natureza factual das coisas e das garrafas de bom scotch, serem como elas são, caras, ou as coisas mesmas! (selbst, ouvia ainda...) klein Geld, bitteschön!, die Damen und Herren..., e lembrar-se perfeitamente de ouvi-lo como que a trautear em vastas e repetidas ocasiões aquelas palavras na intimidade obscura do seu enfezado gabinete de estudo e trabalho, de professor – melhor, de assistente convidado – da cadeira minor de introdução à dramaturgia Contemporânea, na faculdade de Saint Suplice, nos arredores pré-suburbanos de Genebra, aos melhores de entre os seus alguns pupilos que ali se reuniam após as Leituras, como chamava ofiosamente às aulas que ministrava com relativo entusiasmo, dizia, para uma espécie de repetitorium que acabava sempre por, em bom rigor, se tornar noutra coisa qualquer, não sê-lo, por isso mesmo resolvendo logo ali deslocar-se em procura de desabafo à casa de banho mesmo ali ao lado.
Talvez fosse só tesão de mijo, ouviu-se a pensar, aproveitando para, de passagem, tornar a encher o balão com o louro néctar dos actores menos medíocres.
Olá, então, como estás?, mais calma?, (...) que tal correu o voo?... Quantos xanax diários?, ensaiava ele, entre mais duas goladas no seu whisky preferido entre os que por ali houvesse disponíveis de momento, na maior parte das vezes apenas quando não lhe apetecia mesmo nada, antes uma genebrina, por razões intestinais, ou intencionais, claro, (...) que em Roma deve estar um tempo deslumbrante nesta altura do ano, o silêncio surdo de algumas das muitas pombas alvas do entardecer junto à Piazza Navona, mas, que é óbvio, que ainda nem tempo deves ter tido para um refresco..., quanto mais...
Enrubescendo paulatinamente, já voltado para a frente do enorme espelho da sala de estar, as cordas vocais ao ponto incerto, justamente pouco antes de chegar a ter de arrastar a língua, entaramelar sílabas em plena maratona de alarvidades, como as suas pernas bambas de tanto ter bebido já até então, apenas para quase se conseguir fazer entender do outro lado do aparelho nas conversas cada vez mais raras e fugazes com Inge. Meine liebste und unschätzbare Schatz... Mon amour d’une rien.
Max não estaria verdadeiramente bêbado, de acordo com as suas próprias desmesuras, mas estaria já a ficar, por assim dizer, com o espírito assaz elevado, ensopado, e cada vez menos distante de estar pronto para mais uma, outra noite, eram sempre outras as suas noites, agora já só quase diariamente, de pura dissipação indolente, de uma há muito mais de vinte anos decidida auto-dissolução o mais lenta possível daquilo que ainda restava de um certo Max F., o próprio, que ia sendo o escritor de nacionalidade suiça laureado, subsidiado e muito acertadamente renomado pela sua novíssima prosa dramatúrgica, como uma certa crítica eventualmente menos feroz o enchia de alguns miminhos em artigos de reconhecimento encorajadores, no sentido de continuar felizmente na mentira, nas revistas comuns e mais ou menos pós-sexistas da especialidade e nos vulgares e diversos pasquins diários de Genebra aquando de cada nova mise en scène de uma ninharia sua, como gostava de humildemente desabafar entre as pernas mais fiéis das suas discípulas mais aplicadas no estudo de determinadas matérias extra-curriculares, que podiam ir, e iam invariavelmente, desde a influência da filosofia stirneana no Manifesto, até ao puro e aparentemente simples suprir absoluto da natural aflição eréctil pela caridosa e valente berlaitada higiénica.
A sua obra...
E perdia novamente o fio à meada e aos saturnais rigores do tom. Como se a uma muleta supra-álcoolica, pensava agora tornar a recorrer ao, nele, raro mas sempre eficaz ciúme, como método dissuasor de possíveis manobras de esquiva ao dever conjugal.
Felizmente há muito que deixara de poema(lha)r, aí pelos seus cerca de vinte e um anos, como dizia e acrescentava, antes de chegar a poder ter de brilhar nas muito depressivas, quase tanto quanto deprimentes, recepções urbano-literárias e chás-dançantes afins. Somente na amargura de cada uma das raríssimas e preciosas, pedras, amarga e dolorosamente ensanguentadas pelas suas lágrimas, arrancadas ao cinzento abismo a que gostava de poder vir um dia a chamar prosa, uma unidade finalmente triunfante – afirmava na surdina de um semi-anonimato voluntário e pretendido, quando não mesmo desejado, em resposta aos raros questionários-entrevista que aceitava preencher como quem fizesse à tarde algum cruzadismo para matar o tempo -, apesar da inutilidade de tudo, toda a escrita.
- ‘sccusi, per piacere, la señorina del seccundo “étage”, ãh... (...) sinistra, certo gracie tanta! yo...
--------- «(.)(.)» ---------
Une rien. L’unité triomphante.
Ao terceiro ou quarto, já não sei bem, e bem que era generoso o que me pareceu na altura ser um black label simples, já parecia mesmo estar quase decidido a ligar-lhe, assim mesmo, como se fosse sem mais, o telefonema supostamente inesperado mas de pedido concedido, inconfessável, a qualquer momento, mal encenado que estivesse, como desde sempre havia feito, sobretudo o mais importante, como sempre, aquela espécie de tom tragicómico e ligeiramente enliquidado, stumm wie ein Fish!, um mísero rato suíço enfrascado, sem a mínima vontade de abandonar a aleitante nau de suas delícias, a colocar ao mesmo tempo ao longo do habitualmente breve telefonema que lhe fazia sempre que considerava estar, segundo a sua própria imaginação, terminologia filosófica pós-moderna e prazer, quase por alturas de acerto de contas, como lhe chamava, que o limite do cartão de crédito, em sã verdade, começava a dar sinais intermitentes da não perigosa, mas velozmente a tornar-se visível que nem uma glorificante chaga aberta na possibilidade dos dias, no único coração que ainda se permitia ir tendo ao sabor do próprio sangue, da ausência abjecta de poesia nos pezinhos delicados de H., que a essa hora ainda devia estar com os coleguinhas de curso. Dir-se-ia talvez mesmo, que estava invulgarmente nervoso para aquela hora do dia e talvez, sobretudo, com a mente mais tresloucada e visando outras paragens possivelmente ainda para essa mesma noite, bastante mais tarde ainda hoje. Chamar depois um táxi e rumar com destino mais que certinho pela noite, dentro de novo em busca de Helène, daquela putéfia, a galdéria magnífica e adolescente ainda ma non tropo das últimas duas noites de revisão da matéria dada na faculdade durante a tarde, que devia chegar ao local de antes da habitual ceia, como sempre, nunca antes das dez para as onze, outro dos seus diversos e nem sempre assim tão inócuos fétiches de rameirinha muitíssimo mimada também, ao que contava, em jeito de orgasmo múltiplo e variado durante o fazer simples do sexo, pelo próprio padrasto desde a mais doce das idades de que guarda feliz memória.
Que tesão que lhe desacodia agora ao ter de pensar nisso, numa rápida mas terna mamada de bezerrinha bem fodida, embora muito possivelmente em cuja hora da verdade tivesse de voltar, com algum agrado até, diga-se, a socorrer-se de algum outro tipo de dotes para empatar o tempo, técnicas de anti-jogo, prolongados intervalos para conversar, por vezes fumar, e tornar a morder-lhe os seios pequenos, ideiais, pensava, para fazer render a queca, que é mesmo assim... Bem. Mais tarde logo se veria. O priapismo, súbito e fora de horas, é que não estava de modo algum previsto, enquanto visitante inesperado mas nem por isso mal vindo, a tornar a visitá-lo, por assim dizer, naquela espécie de plena pré-programação da caçada nocturna, antecâmara da berlaitada sem mácula, que seguramente o esperaria a seguir àquele desprezível, até para ele, acto de submissão à natureza factual das coisas e das garrafas de bom scotch, serem como elas são, caras, ou as coisas mesmas! (selbst, ouvia ainda...) klein Geld, bitteschön!, die Damen und Herren..., e lembrar-se perfeitamente de ouvi-lo como que a trautear em vastas e repetidas ocasiões aquelas palavras na intimidade obscura do seu enfezado gabinete de estudo e trabalho, de professor – melhor, de assistente convidado – da cadeira minor de introdução à dramaturgia Contemporânea, na faculdade de Saint Suplice, nos arredores pré-suburbanos de Genebra, aos melhores de entre os seus alguns pupilos que ali se reuniam após as Leituras, como chamava ofiosamente às aulas que ministrava com relativo entusiasmo, dizia, para uma espécie de repetitorium que acabava sempre por, em bom rigor, se tornar noutra coisa qualquer, não sê-lo, por isso mesmo resolvendo logo ali deslocar-se em procura de desabafo à casa de banho mesmo ali ao lado.
Talvez fosse só tesão de mijo, ouviu-se a pensar, aproveitando para, de passagem, tornar a encher o balão com o louro néctar dos actores menos medíocres.
Olá, então, como estás?, mais calma?, (...) que tal correu o voo?... Quantos xanax diários?, ensaiava ele, entre mais duas goladas no seu whisky preferido entre os que por ali houvesse disponíveis de momento, na maior parte das vezes apenas quando não lhe apetecia mesmo nada, antes uma genebrina, por razões intestinais, ou intencionais, claro, (...) que em Roma deve estar um tempo deslumbrante nesta altura do ano, o silêncio surdo de algumas das muitas pombas alvas do entardecer junto à Piazza Navona, mas, que é óbvio, que ainda nem tempo deves ter tido para um refresco..., quanto mais...
Enrubescendo paulatinamente, já voltado para a frente do enorme espelho da sala de estar, as cordas vocais ao ponto incerto, justamente pouco antes de chegar a ter de arrastar a língua, entaramelar sílabas em plena maratona de alarvidades, como as suas pernas bambas de tanto ter bebido já até então, apenas para quase se conseguir fazer entender do outro lado do aparelho nas conversas cada vez mais raras e fugazes com Inge. Meine liebste und unschätzbare Schatz... Mon amour d’une rien.
Max não estaria verdadeiramente bêbado, de acordo com as suas próprias desmesuras, mas estaria já a ficar, por assim dizer, com o espírito assaz elevado, ensopado, e cada vez menos distante de estar pronto para mais uma, outra noite, eram sempre outras as suas noites, agora já só quase diariamente, de pura dissipação indolente, de uma há muito mais de vinte anos decidida auto-dissolução o mais lenta possível daquilo que ainda restava de um certo Max F., o próprio, que ia sendo o escritor de nacionalidade suiça laureado, subsidiado e muito acertadamente renomado pela sua novíssima prosa dramatúrgica, como uma certa crítica eventualmente menos feroz o enchia de alguns miminhos em artigos de reconhecimento encorajadores, no sentido de continuar felizmente na mentira, nas revistas comuns e mais ou menos pós-sexistas da especialidade e nos vulgares e diversos pasquins diários de Genebra aquando de cada nova mise en scène de uma ninharia sua, como gostava de humildemente desabafar entre as pernas mais fiéis das suas discípulas mais aplicadas no estudo de determinadas matérias extra-curriculares, que podiam ir, e iam invariavelmente, desde a influência da filosofia stirneana no Manifesto, até ao puro e aparentemente simples suprir absoluto da natural aflição eréctil pela caridosa e valente berlaitada higiénica.
A sua obra...
E perdia novamente o fio à meada e aos saturnais rigores do tom. Como se a uma muleta supra-álcoolica, pensava agora tornar a recorrer ao, nele, raro mas sempre eficaz ciúme, como método dissuasor de possíveis manobras de esquiva ao dever conjugal.
Felizmente há muito que deixara de poema(lha)r, aí pelos seus cerca de vinte e um anos, como dizia e acrescentava, antes de chegar a poder ter de brilhar nas muito depressivas, quase tanto quanto deprimentes, recepções urbano-literárias e chás-dançantes afins. Somente na amargura de cada uma das raríssimas e preciosas, pedras, amarga e dolorosamente ensanguentadas pelas suas lágrimas, arrancadas ao cinzento abismo a que gostava de poder vir um dia a chamar prosa, uma unidade finalmente triunfante – afirmava na surdina de um semi-anonimato voluntário e pretendido, quando não mesmo desejado, em resposta aos raros questionários-entrevista que aceitava preencher como quem fizesse à tarde algum cruzadismo para matar o tempo -, apesar da inutilidade de tudo, toda a escrita.
- ‘sccusi, per piacere, la señorina del seccundo “étage”, ãh... (...) sinistra, certo gracie tanta! yo...
--------- «(.)(.)» ---------
§ 6. Fabrizio Lupo, Carlo Coccioli
(Assis, 1 de Setembro:) Descubro que a morte não existe a partir do que me disse um dia um cego de nascença, homem dos seus trinta anos, frágil, com um rosto descarnado mas rico daquela tranquilidade que habitualmente os cegos não possuem, perturbados que se sentem pela ausência de um centro sensível. Conheci-o há dois anos numa noite de Verão; as pessoas tinham abandonado as casas, tinham fugido daquela cidadezita antiga, árida, fanática, fantástica, sacudida pelo terramoto; os abalos eram muito frequentes, bastante fortes, mas aquelas construções arcaicas, humildes, intrépidas, resistiam ainda, o que não impedira os habitantes de fugir. Tinham acampado fora dos muros da cidade em tendas da Cruz Vermelha e em toda a espécie de abrigos. Mas o cego errava pelas ruelas desertas, que a ausência de pessoas ampliava numa dimensão gigantesca. Caminhava direito, seguro, naquelas ruelas transbordantes de ecos. Sentia, quem sabe, que a cidade era toda sua. Era noite. Ouvi os seus passos cadenciados, aproximei-me e pedi-lhe uma informação. Caminhou a meu lado, guiou-me, e ficámos amigos.
Perguntei-lhe um dia o que é que sentem os cegos. Ao perguntá-lo, coloquei ambas as mãos nos olhos e pus-me a andar pelo quarto, mas o único resultado que tive foi esbarrar na esquina de uma cómoda. O cego riu baixinho. «É grotesco o que estás a fazer – observou, com a sua voz profunda – porque, se tapas os olhos, a única coisa que acontece é que deixas de ver.» Foi exactamente isto que disse e eu, furioso, exclamei: «Bem sei, tanto mais que fiquei com uma nódoa negra num joelho! Mas o que é que queres dizer com isso de que a única coisa que acontece é que deixo de ver?» «Exprimi-me mal – disse o cego. – E exprimi-me mal porque me exprimo com a linguagem que vocês, os que vêem, inventaram. O que quero dizer é que, se tapares os olhos, deixas de ver, mas os teus olhos continuam a funcionar, isto é, vês a obscuridade. Vês em negativo. Não-vês, mas a ideia de não-ver implica a ideia de ver.»
«Não se pode dizer que estejas a ser muito claro – disse, azedo. – Onde é que queres chegar?» «Quero fazer-te entender que um cego como eu, um cego de nascença, é completamente alheio à ideia de ver, quer em sentido positivo, quer em sentido negativo, de onde se deduz ser falso que eu seja cego, como vocês pretendem. Afirmar que eu sou cego é, alias, uma parvoíce.» «Com que então não és cego?» «Não, meu caro, não sou cego. O conceito de vista ou não-vista é-me totalmente estranho, não me diz respeito. Quando muito, vocês e que são não-cegos.» Desatei a rir e pensei em Parménides, que afirmava: «Não podemos conceber verdadeiramente a ideia de não-ser, pela simples razão de que somos»; e o cego que, milagre dos milagres, afinal não era cego, continuou imperturbável, com o seu rosto descarnado. De modo que lhe perguntei depois: «Mas tu, concretamente, o que é que podes provar com esses teus olhos apagados (se me permites o adjectivo pouco adequado)?»
Respondeu-me com cordialidade: «Os meus olhos não são olhos e não podem, por isso, ser nem olhos apagados nem olhos acesos. Com os meus mal denominados olhos, eu, no que à vista ou não-vista se refere, experimento o mesmo que tu – como explicar-te? – experimentas com o teu cotovelo direito ou com o teu joelho esquerdo. No que se refere à vista ou não-vista, não experimento absolutamente nada.»
Naquele momento, aquela afirmação deixou-me perfeitamente aterrado e não o escondi àquele-que-já-não-era-cego, que, de novo, desatou a rir. «O teu terror, desculpa que to diga, é outra parvoíce, mas, com franqueza, não sou capaz de explicar-te porquê. Imagina que, ao pensares num pássaro, ficas aterrorizado pelo simples facto de ser um pássaro. Não achas que seria uma parvoíce?» De acordo, e agora aqui, em Assis, lembro-me subitamente de aplicar tal «descoberta» à ideia da morte e chego a conclusão que a morte é uma criação dos vivos, já que, no momento em que uma pessoa viva deixa de o estar, a morte deixa automaticamente de existir; por outras palavras: a morte não existe, ou antes, a morte é um acto de vida, a morte é vida. [...]
In, Carlo Coccioli, Fabrizio Lupo, Cotovia
--------- «(.)(.)» ---------
(Assis, 1 de Setembro:) Descubro que a morte não existe a partir do que me disse um dia um cego de nascença, homem dos seus trinta anos, frágil, com um rosto descarnado mas rico daquela tranquilidade que habitualmente os cegos não possuem, perturbados que se sentem pela ausência de um centro sensível. Conheci-o há dois anos numa noite de Verão; as pessoas tinham abandonado as casas, tinham fugido daquela cidadezita antiga, árida, fanática, fantástica, sacudida pelo terramoto; os abalos eram muito frequentes, bastante fortes, mas aquelas construções arcaicas, humildes, intrépidas, resistiam ainda, o que não impedira os habitantes de fugir. Tinham acampado fora dos muros da cidade em tendas da Cruz Vermelha e em toda a espécie de abrigos. Mas o cego errava pelas ruelas desertas, que a ausência de pessoas ampliava numa dimensão gigantesca. Caminhava direito, seguro, naquelas ruelas transbordantes de ecos. Sentia, quem sabe, que a cidade era toda sua. Era noite. Ouvi os seus passos cadenciados, aproximei-me e pedi-lhe uma informação. Caminhou a meu lado, guiou-me, e ficámos amigos.
Perguntei-lhe um dia o que é que sentem os cegos. Ao perguntá-lo, coloquei ambas as mãos nos olhos e pus-me a andar pelo quarto, mas o único resultado que tive foi esbarrar na esquina de uma cómoda. O cego riu baixinho. «É grotesco o que estás a fazer – observou, com a sua voz profunda – porque, se tapas os olhos, a única coisa que acontece é que deixas de ver.» Foi exactamente isto que disse e eu, furioso, exclamei: «Bem sei, tanto mais que fiquei com uma nódoa negra num joelho! Mas o que é que queres dizer com isso de que a única coisa que acontece é que deixo de ver?» «Exprimi-me mal – disse o cego. – E exprimi-me mal porque me exprimo com a linguagem que vocês, os que vêem, inventaram. O que quero dizer é que, se tapares os olhos, deixas de ver, mas os teus olhos continuam a funcionar, isto é, vês a obscuridade. Vês em negativo. Não-vês, mas a ideia de não-ver implica a ideia de ver.»
«Não se pode dizer que estejas a ser muito claro – disse, azedo. – Onde é que queres chegar?» «Quero fazer-te entender que um cego como eu, um cego de nascença, é completamente alheio à ideia de ver, quer em sentido positivo, quer em sentido negativo, de onde se deduz ser falso que eu seja cego, como vocês pretendem. Afirmar que eu sou cego é, alias, uma parvoíce.» «Com que então não és cego?» «Não, meu caro, não sou cego. O conceito de vista ou não-vista é-me totalmente estranho, não me diz respeito. Quando muito, vocês e que são não-cegos.» Desatei a rir e pensei em Parménides, que afirmava: «Não podemos conceber verdadeiramente a ideia de não-ser, pela simples razão de que somos»; e o cego que, milagre dos milagres, afinal não era cego, continuou imperturbável, com o seu rosto descarnado. De modo que lhe perguntei depois: «Mas tu, concretamente, o que é que podes provar com esses teus olhos apagados (se me permites o adjectivo pouco adequado)?»
Respondeu-me com cordialidade: «Os meus olhos não são olhos e não podem, por isso, ser nem olhos apagados nem olhos acesos. Com os meus mal denominados olhos, eu, no que à vista ou não-vista se refere, experimento o mesmo que tu – como explicar-te? – experimentas com o teu cotovelo direito ou com o teu joelho esquerdo. No que se refere à vista ou não-vista, não experimento absolutamente nada.»
Naquele momento, aquela afirmação deixou-me perfeitamente aterrado e não o escondi àquele-que-já-não-era-cego, que, de novo, desatou a rir. «O teu terror, desculpa que to diga, é outra parvoíce, mas, com franqueza, não sou capaz de explicar-te porquê. Imagina que, ao pensares num pássaro, ficas aterrorizado pelo simples facto de ser um pássaro. Não achas que seria uma parvoíce?» De acordo, e agora aqui, em Assis, lembro-me subitamente de aplicar tal «descoberta» à ideia da morte e chego a conclusão que a morte é uma criação dos vivos, já que, no momento em que uma pessoa viva deixa de o estar, a morte deixa automaticamente de existir; por outras palavras: a morte não existe, ou antes, a morte é um acto de vida, a morte é vida. [...]
In, Carlo Coccioli, Fabrizio Lupo, Cotovia
--------- «(.)(.)» ---------
§. 7 A Noção de Gasto, (I) Georges Bataille

Georges Bataille
Georges Bataille, A Noção De Gasto[1]
1. Insuficiência do princípio clássico de utilidade
Quando o sentido de um debate depende do valor fundamental da palavra útil, quer dizer, sempre que é abordada uma questão essencial relacionada com a vida das sociedades humanas, sejam quais forem as pessoas intervenientes e as opiniões representadas, é possível afirmar que se falseia necessariamente o debate e se ilude a questão fundamental. Com efeito, não existe nenhum meio correcto, considerando o conjunto mais ou menos divergente das concepções actuais, que permita definir o que é útil aos homens. Esta lacuna fica suficientemente provada pelo facto de ser constantemente necessário recorrer, do modo mais injustificável, a princípios que se tentam situar para além do útil e do prazer. Alude-se, hipocritamente, à honra e ao dever, combinando-os com o interesse pecuniário e, sem falar de Deus, o Espírito é usado para mascarar a confusão intelectual dos que recusam aceitar um sistema coerente.
No entanto, a prática usual evita estas dificuldades elementares e a consciência comum parece que, numa primeira aproximação, não pode opor senão reservas verbais ao princípio clássico da utilidade, quer dizer, da pretensa utilidade material. Teoricamente, esta tem por objecto o prazer – mas somente sob uma forma moderada, já que o prazer violento é percebido como patológico – e fica limitada à aquisição (praticamente à produção) e à conservação de bens, por um lado, e à reprodução e conservação de vidas humanas, por outro: (preciso é acrescentar, certamente, a luta contra a dor, cuja importância basta em si mesma para manifestar o carácter negativo do princípio do prazer teoricamente introduzido na base). Na série de representações quantitativas ligadas a esta concepção da existência, plana e insustentável, só o problema da reprodução se presta seriamente à controvérsia pelo facto de um aumento exagerado do número de seres vivos poder diminuir a parte individual. Mas, globalmente, qualquer avaliação geral sobre a actividade social implica o princípio de que todo o esforço particular deve ser redutível, para ser válido, às necessidades fundamentais da produção e da conservação. O prazer, quando se trata de arte, de vício tolerado ou de jogo, fica reduzido, em definitivo, nas interpretações intelectuais correntes, a uma concessão, quer dizer, a um descanso cujo papel seria subsidiário. A parte mais importante da vida é considerada como sendo constituída pela condição – às vezes até penosa – da actividade social produtiva.
É verdade que a experiência pessoal, tratando-se de um jovem, capaz de esbanjar e destruir sem sentido, opõe-se, em todo o caso, a esta concepção miserável. Mas até mesmo quando este se prodigaliza e se destrói sem consideração alguma, até o mais lúcido ignora o porquê ou julga-se doente. É incapaz de justificar utilitariamente a sua conduta e não se apercebe que uma sociedade humana possa estar interessada, como ele mesmo, em perdas consideráveis, em catástrofes que provoquem, de acordo com necessidades concretas, abatimentos profundos, ataques de angústia e, em último extremo, um certo estado orgiástico.
A contradição entre as concepções sociais correntes e as necessidades reais da sociedade assemelha-se, de um modo esmagador, à estreiteza de mente com que o pai tenta obstar a satisfação das necessidades do filho que tem a seu cargo. Esta estreiteza é tal que é impossível ao filho expressar a sua vontade. A quase malvada protecção de seu pai cobre o alojamento, a roupa, a alimentação, até algumas diversões anódinas. Mas o filho não tem sequer o direito de falar do que o preocupa. É obrigado a fazer crer que não se defronta com nada de abominável. Neste sentido é triste dizer que a humanidade consciente continua a ser menor de idade; admite o direito de adquirir, de conservar ou de consumir racionalmente, mas exclui, em princípio, o gasto improdutivo.
É certo que esta exclusão é superficial e não modifica a actividade prática, do mesmo modo que as proibições não limitam o filho, que se entrega a diversões inconfessáveis assim que deixa de estar em presença do pai. A humanidade pode fazer as suas concepções tão estúpidas e míopes quanto as paternas. Mas, na prática, comporta-se de tal forma que satisfaz necessidades que são uma barbaridade atroz e até não parece capaz de subsistir senão à beira do excessivo.
Por outro lado, por pouco que um homem seja capaz de aceitar plenamente as considerações oficiais, ou que possam chegar a sê-lo, por pouco que tenda a submeter-se à atracção de quem dedica a sua vida à destruição da autoridade estabelecida, é difícil crer que a imagem de um mundo aprazível e coerente com a razão possa chegar a ser para ele mais que uma cómoda ilusão.
As dificuldades que se podem encontrar no desenvolvimento de uma concepção que não siga o modelo desprezível das relações do pai com o filho não são, portanto, insuperáveis. Pode acrescentar-se à necessidade histórica de imagens vagas e enganosas para uso da maioria, que não actua sem um mínimo de erro (do qual se serve como se fosse uma droga) e que, além disso, em qualquer circunstância, recusa reconhecer-se no labirinto a que conduzem as inconsequências humanas. Para os sectores incultos ou pouco cultivados da sociedade, uma simplificação extrema constitui a única possibilidade de evitar uma diminuição da força agressiva. Mas seria vergonhoso aceitar como limite ao conhecimento as condições em que se formam tais concepções simplificadas. E se uma concepção menos arbitrária está condenada a permanecer, de facto, como que esotérica e se, como tal, tropeça, nas circunstâncias actuais, com uma recusa insana, é preciso dizer que esta recusa é precisamente a desonra de uma geração na qual os rebeldes têm medo do clamor das suas próprias palavras. Não devemos, portanto, prestar-lhe atenção.

Touro
2. O princípio de perda
A actividade humana não é inteiramente redutível a processos de produção e conservação, e o consumo pode ser dividido em duas partes distintas. A primeira, redutível, é representada pelo uso de um mínimo necessário aos indivíduos de uma sociedade dada à conservação da vida e para a continuação da actividade produtiva. Trata-se, pois, simplesmente, da condição fundamental desta última. A segunda parte é representada pelos chamados gastos improdutivos: o luxo, os duelos, as guerras, a construção de monumentos sumptuosos, os jogos, os espectáculos, as artes, a actividade sexual perversa (quer dizer, desviada da actividade genital), que representam actividades que, pelo menos em condições primitivas, têm o seu fim em si mesmas. Por isso, é necessário reservar o nome de gasto para estas formas improdutivas, com exclusão de todos os modos de consumo que servem como meio de produção. Apesar de ser sempre possível opor umas às outras, as diversas formas enumeradas constituem um conjunto caracterizado pelo facto de, em qualquer caso, a ênfase se situar na perda, a qual deve ser a maior possível para adquirir o seu verdadeiro sentido.
Este princípio de perda, quer dizer, de gasto incondicional, por contrário que seja ao princípio económico da contabilidade (o gasto regularmente compensado pela aquisição), só racional no sentido estrito da palavra, pode manifestar-se com a ajuda de um pequeno número de exemplos extraídos da experiência corrente.
1) Não basta que as jóias sejam belas e deslumbrantes, o que permitiria que fossem substituídas por outras falsas. O sacrifício de uma fortuna, em vez da qual se preferiu um colar de diamantes, é o que constitui o carácter fascinante do referido objecto. Este facto deve ser relacionado com o valor simbólico das jóias, que é geral em psicanálise. Quando um diamante tem num sonho uma significação relacionada com os excrementos, não se trata somente de uma associação por contraste já que, no subconsciente, as jóias, como os excrementos, são matérias malditas que flúem de uma ferida, partes de nós mesmos destinadas a um sacrifício ostensivo (servem, de facto, para fazer ofertas faustosas carregadas de desejo sexual). O carácter funcional das jóias exige o seu imenso valor material e explica o pouco caso feito às mais belas imitações, que são quase inutilizáveis.
2) Os cultos exigem uma destruição cruenta de homens e de animais de sacrifício. O sacrifício não é outra coisa, no sentido etimológico da palavra, senão a produção de coisas sagradas. É fácil apercebermo-nos de que as coisas sagradas têm a sua origem numa perda. Em particular, o êxito do cristianismo pode ser explicado pelo valor do tema da crucificação do filho de Deus, que provoca a angústia humana por equivaler à perda e à ruína sem limites.
3) Nos diferentes desportos, a perda produz-se, em geral, em condições complexas. Despendem-se quantidades consideráveis de dinheiro na manutenção de locais, de aparelhos e de homens. As energias prodigalizam-se, no possível, com a finalidade de provocar um sentimento de estupefacção e, em todo o caso, com uma intensidade infinitamente maior que nas empresas de produção. O perigo de morte não é evitado, uma vez que, pelo contrário, é o objecto de uma forte atracção inconsciente. Por outro lado, as competições são, às vezes, a ocasião para repartir riquezas de uma maneira ostensiva. Multidões imensas assistem a elas. As suas paixões desencadeiam-se com grande frequência sem controlo algum, a perda de ingentes quantidades de dinheiro fica comprometida em forma de apostas. É verdade que esta circulação de dinheiro beneficia um pequeno número de profissionais da aposta, mas nem por isso esta circulação pode ser menos considerada como uma carga real das paixões desencadeadas pela competição, que ocasiona a um grande número de apostadores perdas desproporcionadas aos seus meios. Estas perdas alcançam frequentemente uma importância tal que os apostadores não têm outra saída senão a prisão ou a morte. Por outro lado, formas diferentes de gasto improdutivo podem estar ligadas, consoante as circunstâncias, aos grandes espectáculos de competição que, tal como os elementos animados por um movimento próprio, se sentem atraídos por uma turbulência maior. É deste modo que nas corridas de cavalos se associam processos de classificação social de carácter sumptuário (basta mencionar a existência dos Jockey Clubs) e à produção ostensiva das luxuosas novidades da moda. Há que fazer observar, além disso, que o conjunto dos gastos que têm lugar actualmente nas corridas é insignificante comparado com as extravagâncias dos bizantinos, que unem às competições hípicas o conjunto da actividade pública.
4) Do ponto de vista do gasto, as produções artísticas podem ser divididas em duas grandes categorias, das quais a primeira é constituída pela arquitectura, a música e a dança. Esta categoria comporta gastos reais. No entanto, a escultura e a pintura, sem fazer referência à utilização de lugares concretos para cerimónias ou espectáculos, introduzem na própria arquitectura o princípio da segunda categoria, o do gasto simbólico. Pelo seu lado, a música e a dança podem estar facilmente carregadas de significações exteriores.
Na sua forma superior, a literatura e o teatro, que constituem a segunda categoria, provocam a angústia e o horror por meio de representações simbólicas da perda trágica (decadência ou morte). Na sua forma inferior provocam o riso por meio de representações cuja estrutura é análoga, mas excluem certos elementos de sedução. O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser considerado como sinónimo de gasto; significa, com efeito, da forma mais precisa, criação por meio da perda. O seu sentido é equivalente a sacrifício. É certo que o nome poesia só pode ser aplicado de forma apropriada, a uma parte muito pouco conhecida do que vem a designar vulgarmente e que, por falta de uma decantação prévia, podem introduzir-se as piores confusões. No entanto, numa primeira exposição rápida, é impossível referir-se aos limites infinitamente variáveis que existem entre determinadas formações subsidiárias e o elemento residual da poesia. É mais fácil dizer que, para os poucos seres humanos que estão enriquecidos por este elemento, o gasto poético deixa de ser simbólico nas suas consequências. Portanto, em certa medida, a função criativa compromete a própria vida daquele que a assume, uma vez que o expõe às actividades mais decepcionantes, à miséria, ao desespero, à perseguição de sombras fantasmagóricas, que só podem causar vertigem, ou à raiva. É frequente que o poeta não possa dispor das palavras mais que para sua própria perdição, que se veja obrigado a escolher entre um destino que transforma um homem num réprobo, tão drasticamente isolado da sociedade como estão os excrementos da vida aparente, e uma renúncia cujo preço é uma actividade medíocre, subordinada a necessidades vulgares e superficiais.
[1] Este estudo foi publicado no Nº 7 de “La critique sociale”, Janeiro de 1933
(cont.)
--------- «(.)(.)» ---------
§ 8. De Saída: Número 13 (como sempre às Quintas!)...












